Eis que voltamos com o segundo episódio da série de entrevistas intitulada “Referenciais Luso-brasileiros da Crítica Literária”. Nosso entrevistado de hoje, de Portugal, é Osvaldo Manuel Silvestre.
Se você ainda não viu o primeiro episódio, com Paulo Franchetti, não perca tempo! Aqui está o link.
Osvaldo é professor na Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, onde ensina Teoria da Literatura, Literatura Brasileira e Análise e Crítica de Filmes. É coordenador do Instituto de Estudos Brasileiros da sua Faculdade.
Foi, por dois períodos, professor visitante no Instituto de Estudos da Linguagem da UNICAMP, o último interrompido por causa da pandemia da Covid-19, quando lecionava, com Alcir Pécora, um curso de doutoramento sobre “Contracultura, Experimentalismo e Desbunde no Brasil e em Portugal, anos 60 e 70”.
O seu último ensaio publicado é “Gramatiquinha radiofónica. Mário de Andrade e o corpo político da língua”. O seu último livro publicado é o volume, em coorganização com Rita Patrício, Conferências do Cinquentenário da Teoria da Literatura de Vítor Aguiar e Silva.
– INÍCIO DA ENTREVISTA –
MUNDO ESCRITO (ME) – Como pesquisador do Instituto de Estudos Brasileiros (IEB) na Universidade de Coimbra, de que forma o senhor avalia o interesse nas pesquisas em literatura brasileira por parte das universidades estrangeiras?
OSVALDO SILVESTRE – O interesse nunca foi muito grande e sofreu sempre os efeitos contextuais da evolução histórica do Brasil, bem como do pensamento internacional sobre a posição e papel geoestratégicos da imensa nação brasileira. Numa fase recente, mas já longínqua, a afirmação internacional do Brasil dentro do grupo dos BRICS fez com que um número razoável de universidades europeias se empenhasse em abrir uma área de estudos brasileiros, ou em incluí-la dentro de uma área alargada de Português (que hoje integra Portugal, Brasil e África). Vivemos atualmente a ressaca de tudo isso e o desinvestimento europeu no Brasil, das universidades à ciência, é manifesto, por razões que não vale a pena perder tempo a explicar. Do lado do Brasil, enfim, não sei se o país alguma vez teve uma política externa bem desenhada para a área cultural, mas desde que estou à frente do IEB da minha universidade não consegui reconhecer tal coisa. Propor a circulação de escolas de samba, e é só um exemplo, é perda de tempo e recursos, pois essa é a imagem, ademais fortíssima, que o mundo tem já do Brasil, e que é, num certo sentido, autossustentável. Era preciso muito mais para ajudar as universidades e instituições culturais europeias a mostrar e difundir o outro Brasil, criativo, cosmopolita, multicultural e multidisciplinar, alternativo, crítico da sua própria imagem, esse Brasil menos conhecido mas decisivo para excitar a imaginação empática dos jovens estudantes e pesquisadores europeus, tanto mais que a imagem clássica do Brasil de exportação, feita de samba, praia, carnaval e futebol, já só funciona para um escalão etário em pré-aposentação, ou então para esse turismo universal que vai depredando o planeta.
O impacto disto no perfil de pesquisadores e pesquisa produzida na Europa sobre o Brasil não é notável. A área tem uma reduzida capacidade de atração sobre jovens estudantes e aqueles que enveredam pela pesquisa pensam duas vezes antes de optar por ela, dadas as dificuldades para arranjar um lugar na profissão, antes de mais. Mas creio que a imagem estereotipada do Brasil que circula nas universidades e instituições culturais europeias, para não referir o discurso público, contribui também para desajudar (receio bem que da imagem estereotipada façam hoje parte coisas como a bossa nova, o tropicalismo ou o cinema novo). Assim, na Europa os estudos brasileiros, com as exceções de sempre, que as há e houve no passado, caracterizam-se por uma produção derivativa, dado o facto de a maioria dos pesquisadores da área, o que é muito natural quando se trata de brasileiros no exterior, entenderem que os estudos brasileiros na Europa não podem deixar de ser os estudos brasileiros feitos no Brasil e transplantados para a Europa. A situação portuguesa recente, deve dizer-se, é bastante estimulante, apesar da sua fragilidade. Dispomos de um número reduzido de professores e pesquisadores, mas com trabalho de referência sobre autores centrais da literatura brasileira, trate-se de Machado de Assis, Murilo Mendes, Guimarães Rosa, Clarice Lispector, Hilda Hilst, e sobretudo dispomos de pessoas que, talvez por não se dedicarem apenas à literatura brasileira, são autoridades na universidade portuguesa em mais de uma área, o que acaba por beneficiar o perfil público dos estudos brasileiros feitos cá, neste momento. Isso não diminui os problemas da área, que começam na escassa capacidade de atração de estudantes, mas tem ajudado a desenvolver uma perspectiva crítica dentro dos próprios estudos brasileiros, perspectiva essa que herda as complicações inerentes ao facto de esses estudos terem lugar em Portugal, ex-potência colonial do Brasil. Eu diria que essas complicações, em sede epistemológica, tendem a ser mais produtivas para nós do que para os colegas brasileiros, quando se defrontam com os seus efeitos hermenêuticos e críticos; e que, em sede política, tendem a ser inibidoras para os brasileiros, mais do que para nós, até porque, e falo por mim, não me considero herdeiro de nenhum império colonial.
ME – Como começou o seu interesse pela literatura brasileira?
OSVALDO SILVESTRE – Eu suponho que pertenço à talvez última geração portuguesa que manteve uma forte relação formativa com a cultura e artes do Brasil. Digo última porque o Portugal posterior à entrada na União Europeia se reconfigurou drasticamente como “país europeu”, o que arrastou, a meu ver de modo muito discutível, um descaso pela nossa multissecular história não-europeia – nunca fomos plenamente europeus, coisa que sempre vivi positivamente. Em todo o caso, na minha juventude o Brasil funcionava, ainda que com aquela décalage temporal que definia a receção do estrangeiro em Portugal, como um composto poderoso de música popular, sobretudo tropicalista, Cinema Novo e ainda essa específica manifestação artística brasileira que foi o futebol, cujo ponto alto foi, para mim, a seleção de 1982. Digo “foi” porque a diferença específica do futebol brasileiro se esbateu em excesso e tenho hoje dificuldade em reconhecer nele essa arte que me mobilizou em 82. Ainda há, de vez em quando, jogadores brasileiros, mas creio que já não existe um futebol brasileiro, se me permitem um módico de essencialismo, muito difícil de eliminar no futebol. Retrospetivamente, o composto foi variando o seu peso e hierarquia interna. No cinema daquele período, por exemplo, o meu interesse deslocou-se para o cinema marginal, em detrimento do cinema novo. Na música, houve um momento em que Caetano me passou a interessar bastante menos – sonicamente, interessaram-me bem mais, na fase posterior, Chico Science ou os Racionais MC, bem menos o rock brasileiro dos anos 80, tão inconvincente, na sua grande maioria, como o português, com vantagem ainda assim para este. E, por outro lado, Caetano passou a ser discutido mais pelo lado da brasilianística, com Verdade Tropical, do que pelo da música & tropicalismo, como devia ter sucedido, mas não sucedeu verdadeiramente, com o extraordinário livro que é Alegria, alegria, de 1977, essa “caetanave” organizada pelo inevitável Waly Salomão. Quanto à literatura brasileira da minha juventude, ela era ainda o eco retardado do impacto dos romancistas de 30 sobre o neorrealismo português, nas edições locais pela Livros do Brasil: Jorge Amado, Lins do Rego, Graciliano, Rachel de Queiroz, todos eles existiam em contexto de biblioteca familiar. Depois, com os estudos chegaram Machado, os modernistas, Guimarães Rosa e Clarice Lispector, algum Autran Dourado, João Cabral. Os concretos, como reação e resistência ao plano de estudos, e mais em função do meu interesse pelas vanguardas. E do tropicalismo, em fotocópia (xerox), Os últimos dias de Paupéria, de Torquato Neto, que teve o dom de me dar a perceber que havia mais mundos no Brasil. Lembro-me também do impacto em mim de dois livros de autores muito diferentes. Refiro-me a Bagagem, de Adélia Prado, livro fulgurante, mas infelizmente sem par na sua obra. E Feliz ano novo, de Rubem Fonseca, na edição portuguesa da Contexto, uma leitura de que nunca recuperei (ou melhor: o que nunca recuperou dessa leitura foi a imagem que tinha do Brasil e, mais do que isso, a imagem que eu tinha da dialética social, ainda demasiado ingénua, ou dialética…).
Depois, bem mais tarde, houve o encontro, primeiro à distância, com Carlito Azevedo, e o convite para a aventura conjunta na Inimigo Rumor, que durante alguns números foi uma publicação brasileira e portuguesa. Com Carlito, e numa altura em que os portes de correio não eram o escândalo que são hoje, estabeleci um sistema de troca direta, que me permitiu receber, enviados diretamente do Rio de Janeiro, livros de poetas brasileiros, mas não apenas, que retribuía enviando livros de autores portugueses. Na verdade, acho que este sistema de troca direta, e por vezes de entrega pessoal por intermediários, de livros (e álcool e comidas…) é o melhor que até hoje conseguimos criar entre Portugal e Brasil, já que as políticas oficiais para o intercâmbio cultural entre os dois países se caracterizam ou pela inexistência ou pela ineficiência. Numa fase pouco posterior, a colaboração com Abel Barros Baptista na extraordinária coleção que foi o Curso Breve de Literatura Brasileira, dezena e meia de volumes dirigidos por ele nos Livros Cotovia, de André Jorge, intensificou os meus estudos sobre literatura brasileira, sobretudo na área do modernismo. Colaborei com Abel na preparação da antologia da poesia modernista Seria uma rima, não seria uma solução, e acho que a introdução, “Conversa interessantíssima”, foi das coisas mais entusiasmantes intelectualmente que até hoje fiz, talvez pelo modelo adotado: um diálogo entre dois sujeitos que falam da poesia modernista brasileira – foi preciso decidir parar com a conversa…
Há uns 6 anos, na sequência da aposentação de Maria Aparecida Ribeiro, professora de literatura brasileira em Coimbra, e numa altura em que a crise financeira assolava o país, tornando-se inviável contratar um docente para Literatura Brasileira, desloquei-me para essa área, ficando também a meu cargo a coordenação do Instituto de Estudos Brasileiros na minha Faculdade (em breve com um século de existência). Quando se leciona uma matéria, surgem exigências de conhecimento sistemático dos objetos de ensino, e no fundo tive de me dedicar a ler a biblioteca fundamental da literatura e cultura brasileiras, o que fiz percorrendo os fundos bibliográficos, por vezes surpreendentes, desse nosso Instituto. Como a minha área de referência é a Teoria da Literatura, tendo nos últimos anos trabalhado em particular numa sua ramificação mediática, que são as Materialidades da Literatura, o que fiz foi transportar para os estudos brasileiros essa minha formação e as suas metodologias de análise. É isso que tenho feito com os objetos que elegi para estudo e ensino, o modernismo, a literatura e a questão da língua, o concretismo, a contracultura, as práticas intermediais, mais recentemente o indianismo/indigenismo.
ME – Na sua biblioteca pessoal, quais são os livros brasileiros que o senhor mais estima?
OSVALDO SILVESTRE – Creio que fui respondendo antes e receio não ser particularmente inventivo nesse item. Não tenho nada a opor à centralidade de Machado de Assis na literatura brasileira, que se me afigura fatal, e o mesmo para Bandeira, Drummond, João Cabral na lírica moderna (acrescentaria Roberto Piva, um poeta que vem crescendo em mim e que é uma vítima muito evidente do triunfo da doxa modernista na literatura e nos estudos literários do Brasil), ou Guimarães Rosa e Clarice Lispector na ficção.
Mas a pergunta não é bem esta e sim os livros que mais estimo, o que relança o conflito entre aquilo que se admira e o que se ama, ainda que menor ou imperfeito. Proponho uma lista breve, obviamente muito lacunar, e desigualmente repartida entre admiração e amor: Iracema (na edição de Paulo Franchetti para a Ateliê, que reinventou o livro); Histórias sem data, e Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis; Itinerário de Pasárgada, de Manuel Bandeira, e ainda os dois volumes de Crónicas Inéditas que Julio Castañon Guimarães organizou para a Cosac, mais qualquer um dos seus livros de poesia, modernistas ou não; os dois volumes de correspondência de Mário de Andrade com Drummond e com Bandeira; Antologia Poética (o grande livro do autor, a meu ver) e Corpo, de Carlos Drummond de Andrade; S. Bernardo e Memórias do Cárcere, de Graciliano Ramos; Grande Sertão: Veredas, de João Guimarães Rosa; A paixão segundo G.H., de Clarice Lispector; A educação pela pedra, de João Cabral de Melo Neto; PanAmérica, de José Agrippino de Paula; Me segura qu’eu vou dar um troço, de Waly Salomão; Catatau, de Paulo Leminski; O mez da grippe, de Valêncio Xavier; Panteros, de Décio Pignatari, e ainda Errâncias; os dois livros maiores, aliás curtos, de Raduan Nassar; O caderno rosa de Lori Lamby, de Hilda Hilst; Monodrama, de Carlito de Azevedo; Gran Cabaret Demenzial, de Veronica Stigger; Autobiografia Poética, de Ferreira Gullar. Acrescentaria ainda, à lista, um pequeno volume com os poemas xamânicos da fase tardia de Roberto Piva e ainda todos os seus manifestos, já integrados num dos volumes da sua poesia completa.
A esta lista acrescentaria duas outras, muito breves. Uma com três títulos, situados entre as artes e a literatura: Experiência nº 2, de Flávio de Carvalho; Aspiro ao grande labirinto, de Hélio Oiticica; e Hélio Oiticica: qual é o parangolé? e outros escritos, de Waly Salomão. E uma, mais recente, com livros de dois líderes e pensadores indígenas, duas poderosas contribuições brasileiras para pensarmos o ocaso da civilização em que vivemos: Ideias para adiar o fim do mundo, de Ailton Krenak; A queda do céu, de Davi Kopenawa e Bruce Albert.
ME – O senhor tem acompanhado o trabalho de escritores brasileiros contemporâneos?
OSVALDO SILVESTRE – Sim, claro, embora de uma forma que eu diria não ansiosa. Ou seja, não alimento ilusões sobre a possibilidade de acompanhar tudo o que sai, ainda por cima com um oceano de permeio, e por outro lado parto sempre do princípio de que os nossos contemporâneos tanto podem viver no nosso presente como vir até nós de um passado mais ou menos remoto (o que é válido para a minha relação com a literatura brasileira, a portuguesa ou qualquer uma das outras). Em todo o caso, os críticos que me interessam são aqueles que descobrem autores, sejam eles de hoje ou de há séculos, e que se batem, com as armas argumentativas e retóricas da crítica, por esses autores. Desse ponto de vista, sinto-me longe quer daquele crítico que aposta tudo em autores consagrados, de valoração crítica estabilizada e por isso facilmente rentabilizável em capital institucional, quer daquele outro que vive freneticamente mergulhado no presente e que tudo considera “interessante”, para usar um significante oco muito frequente nesse discurso, a meu ver pouco crítico. Naturalmente, recorro a críticos cujo trabalho aprecio para me orientar na selva obscura do presente, como na do passado. O que não significa que me reconheça sempre nos seus juízos, nem que isso dispense o trabalho próprio de descoberta e indagação. De resto, recorro aos media brasileiros para ler resenhas e entrevistas, bem como às conversas que mantenho, nalguns casos há longos anos, com colegas e amigos brasileiros, ou praticantes na área dos estudos brasileiros, em Portugal e noutros países europeus, para ir acompanhando o trabalho dos novos autores. Seja na poesia, cujo panorama domino melhor, seja na ficção narrativa, um pouco menos no teatro, tanto mais que a sua realização textual se tornou em todo o lado mais problemática, em função da onda do “pós-dramático”.
ME – Historicamente, há uma relação de fortes vínculos entre as literaturas brasileira e portuguesa. Na atualidade, o senhor ainda enxerga, na literatura contemporânea, essa interconexão entre Portugal e Brasil?
OSVALDO SILVESTRE – Quando dizem “historicamente” suponho que querem dizer “antigamente”. O antigamente, recorde-se, foi suficientemente longo para comportar modalidades diversas de interconexão entre as duas literaturas. Por exemplo, a do padre Vieira, que é um autor que pertence de direito a ambas, como muitos dos autores dos séculos XVII e XVIII (quando isso não sucede, quase sempre as razões da sua apropriação por apenas uma delas são de fundamentação problemática). Gonçalves Dias, seguramente o maior poeta romântico em língua portuguesa, é em vários passos da sua obra um poeta empenhadamente brasileiro, mas noutros é um (excelente) poeta português, sem que isso deixe de configurar uma fase histórica do ser-se poeta brasileiro. As coisas mudaram, como se sabe, com o Modernismo de 22, que a pretexto de gramática se desejou emancipar enfim do avozinho português. Antonio Candido ratificou a posição modernista num texto dos anos 50 (“Literatura e Cultura de 1900 a 1945”) em que afirma que com o modernismo a literatura brasileira já desconhece a portuguesa, “pura e simplesmente”. Devo dizer que tenho fortes dúvidas quanto à veracidade plena desta descrição, que esquece uma série de relações hoje já reconstruídas entre os modernismos brasileiro e português, mas sistematicamente descartadas pela historiografia brasileira. Não custa admitir, porém, que ainda que contrastável empiricamente a afirmação de Candido ganhou a força performativa que lhe permitiu fazer mundo, tornando a relação novecentista entre as duas literaturas irrelevante – constatação para a qual temos de fazer ainda o esforço suplementar de imaginar o curso da poesia e cultura brasileiras do século passado sem Fernando Pessoa… De modo que a relação se tornou bem mais difícil de enxergar, sim, para responder com o verbo proposto, para nós algo pitoresco. O que é diferente de admitir que ela desapareceu ou que a contraface da emancipação da literatura brasileira seria o aparecimento de autores produzidos inteiramente dentro da tradição local – o que seria o caso exemplar de João Cabral de Melo Neto, nesta narrativa. Uma posição, convenhamos, insustentável, já que nenhum grande poeta é produzido inteiramente dentro de uma tradição nacional, ainda por cima uma tradição descrita pelo mesmo Candido como “pobre e fraca”. Camões pôde ser um grande poeta porque a tradição que estava ao seu dispor não só recuperava a Antiguidade, como se alargava horizontalmente a uma Europa em fragmentação vernacular, cujo foco maior era Petrarca – e Camões, recordo, escreveu também em espanhol, como muitos autores portugueses de então. No caso do Brasil novecentista, a tese do autor produzido dentro apenas da tradição local é algo que, para parafrasear Candido, consiste em fazer muita nação, fazendo pouca literatura… Mas é uma tese que, obviamente, necessita de estipular previamente a desconexão com a tradição portuguesa, alargando depois o espectro dessa desconexão às outras literaturas, de modo a produzir o “grande autor local”.
Ainda assim, e embora a questão me mobilize pouco, suponho que não custa rastrear a presença de Saramago na ficção brasileira ou a de Adília Lopes na poesia. E suponho que a chamada literatura negra brasileira terá, se é que não está já a ter, com Djaimilia Pereira de Almeida um encontro mais ou menos inevitável. A relação entre as duas literaturas, entretanto, sofreu o efeito de triangulação da presença, hoje reconhecível, das literaturas africanas de língua portuguesa, razão pela qual o panorama se tornou mais complexo e se calhar mais rico. Do lado de Portugal, creio que o impacto da literatura brasileira foi já mais forte, e obviamente teve o seu ponto alto nos anos 40 e 50, quando o fluxo da influência se inverteu, em função da prioridade brasileira no chamado romance social. Mas manteve-se depois, com Guimarães Rosa, muito reconhecível em Maria Velho da Costa e noutros autores, ou Clarice Lispector. Como na poesia sucedeu com os maiores modernistas, sobretudo Bandeira e Drummond, mais tarde com João Cabral nos anos 60 (ainda há dias, num documento do espólio de Carlos de Oliveira, deparei com uma nota sumária sobre João Cabral), ou com os concretos também nesse período, embora no caso deles num impacto quase subterrâneo, tanto quanto o foi o impacto da Poesia Experimental portuguesa.
A minha experiência diz-me que quando hoje um autor de uma das margens do Atlântico descobre um autor da outra margem, isso ocorre num regime basicamente desobrigado dessa relação histórica. Um tanto como ocorre com um autor de qualquer outra literatura, o que nem me parece mau, já que nunca me senti obrigado a gostar de escritores portugueses, por serem portugueses. Resta, é um modo de dizer, a questão da língua, que foi sendo tomada progressivamente por uma prática informal de tradução entre as duas variedades, em múltiplas ocorrências, face à qual a questão da unificação ortográfica ganhou uma relevância ilusória, ainda que compreensível dentro de uma ideia de política de língua. Aliás, a forma como os debates literários e culturais entre os dois países facilmente, e inevitavelmente, derivam para debates sobre a questão da língua, mostra bem a que ponto a língua comum não unifica nem resgata o rumo divergente que ambos tomaram desde o romantismo. Se calhar, porque nenhuma língua comum é realmente una, mesmo dentro das fronteiras de cada país, quanto mais entre eles. Já me aconteceu não entender um açoriano nas Furnas, na ilha de S. Miguel, e já me aconteceu ter de recorrer a um amigo brasileiro para que uma funcionária de uma estação de serviço perto de Araraquara entendesse, à terceira ou quarta tentativa, que eu queria saber se tinham bananada… No caso da literatura, quando um português me confessa que não consegue progredir na leitura de Grande Sertão: Veredas, recomendo a leitura de qualquer um dos grandes livros de Aquilino Ribeiro, que os portugueses em geral confessam ter grande dificuldade em ler. Sendo embora escritores muito diferentes, ambos têm, contudo, em comum o facto de praticarem, na sua escrita, um brutal trabalho de desnaturalização da língua materna, ainda por cima sobre fundo supostamente regionalista.
ME – Há artistas de outras áreas, como a música, que cada vez se aproximam mais da literatura, como, por exemplo, a ‘cantautora’ Adriana Calcanhoto, que inclusive tem uma relação muito próxima com a Universidade de Coimbra. De que maneira o intercâmbio com as demais artes, como o cinema, a música e as práticas performativas, reinventa a literatura brasileira?
OSVALDO SILVESTRE – Podíamos começar, ao contrário, por imaginar o que seria o cinema sem a literatura. Um cinema de pura opsis, contemplativo, de montagem ou não, muito mais lírico do que narrativo, seguramente. Ele existe, mas sempre confinado às franjas experimentais e alternativas do cinema independente, de que eu daria um grande exemplo brasileiro: os filmes de José Agrippino de Paula, mas não tanto “Hitler, III mundo”, e sim os filmes “etnográficos” feitos na África no início dos anos 70 ou o filme feito na Bahia no seu regresso, só com Maria Esther Stockler, a filha de ambos, o mar, o céu, as palmeiras. Para, contudo, o cinema ser uma arte de massas teve de incorporar a narrativa, coisa que até Buñuel percebeu em “Un chien andalou”, o mesmo é dizer o romance, e, num certo sentido, as lições de carpintaria contidas na Poética de Aristóteles – Hollywood deve muito, como se sabe, aos neo-aristotélicos de Chicago, com Wayne Booth à cabeça.
No Brasil, contudo, é imperativo falar da música popular, e daí o vosso exemplo, Adriana Calcanhotto, que foi professora convidada na minha Faculdade por um ano letivo, num processo que acompanhei, com empenho e gosto. Não sei se as letras de canções brasileiras reinventam a literatura brasileira, eu diria antes que constituem um património rico para quem o quiser enfrentar sem preconceitos. Suponho que podemos colocar duas hipóteses de método a este respeito: ou estabelecemos uma relação de continuidade entre o corpus da poesia brasileira e o das letras de canções, ou em alternativa optamos por uma relação de contiguidade entre dois continentes. A primeira favorece reivindicações canonizantes, hoje muito populares, a segunda procura estabelecer diferenças produtivas, indiferente ao cânone e às suas armadilhas. Os casos individuais também acabam por favorecer uma abordagem ou outra. As letras de Caetano tornaram-se um cavalo de batalha da primeira orientação e, para dar um exemplo, tornou-se difícil falar de “Cajuína” sem referir Heidegger, pelo menos, assim como se tornou difícil não referir a sua filiação nos poetas concretos. O mecanismo da filiação, aliás, é tipicamente canonizador, pois produz uma eleição retroativa de paradigmas e figuras do encaixe em tradições. Mas duvido que o mesmo mecanismo possa funcionar com letras de rap, cuja designação mais comum, “rimas”, estabelece logo uma subfiliação em modelos poéticos desqualificados pela poesia moderna, fortemente devedores de uma oralidade reinventada e patente na frequência de rimas pobres. A que acresce o problema, ainda de método, que consiste em analisar letras que, diferentemente das da poesia moderna, vivem plenamente quando acompanhadas por música, o que exige um apetrechamento técnico que não se pode esgotar em instrumentos literários. Talvez por isso certos autores paulistas, penso em José Miguel Wisnik e Luiz Tatit, tenham produzido uma sofisticada analítica (que Tatit define em termos semióticos) da canção popular brasileira, a meu ver correndo muitas vezes o risco de hispostasiar um modelo particular de canção, no qual objeto e método se elegem mutuamente.
Devo dizer que fiquei contente com a atribuição do Nobel da literatura a Bob Dylan, quer pela qualidade extraordinária das suas letras, quer por ele ser autor de um livro de memórias deslumbrante, Chronicles. Volume one. Mas, obviamente, chamar literatura sem mais à escrita de letras de canções arrasta sempre um problema de adequação, com uma longa história. Entretanto, e como a própria noção de literatura comporta uma série de inadequações constitutivas, ou pelo menos não se consegue desembaraçar delas – em que medida os sermões de Vieira são “literatura”, por exemplo? –, a questão não é, em rigor, removível. E é bem possível que a leitura de letras de canções como literatura contribua para revitalizar a própria ideia de literatura, numa altura em que essa ideia parece coincidir em excesso ou com textos lidos em sala de aula ou com livros aos quais se atribuem prémios
ME – Na apresentação do seu site, o senhor refere-se ao humor como um dos bens mais escassos do mundo. Na literatura brasileira, é possível fazer referência a alguns casos bem-sucedidos do uso do humor?
OSVALDO SILVESTRE – Que tal Machado de Assis? Uma coisa que me impressiona com estudantes brasileiros (a minha universidade tem sempre um considerável contingente de estudantes brasileiros), quando lemos um texto de Machado, é o facto de eles reagirem pouco e mal ao humor machadiano. Eu rio-me imenso com Machado, em silêncio ou de forma mais manifesta, e faço-o obviamente na sala de aula, para surpresa quase sempre dos estudantes brasileiros. Não percebo que diabo de pedagogia e didática a escola brasileira exercita com os textos de Machado, que a leva a secundarizar de forma tão chocante o amplíssimo espectro de efeitos do humor na obra de Machado – que podem ir da gargalhada faceta ao humor transcendental de tipo romântico ou ao humor negro –, em favor daquela versão para consumo nacional estrito que é a da cansativa “teoria do medalhão”. Um dos menos interessantes textos de Machado tornou-se um vade mecum da sua leitura na totalidade, como autor que nos permite aceder a um cliché do Brasil, tornando o autor em causa também um cliché, nesse processo. Talvez fosse bom fazer um esforço para libertar um pouco Machado do fardo que consiste em fazer dele a todo o transe um veículo para interpretar o Brasil, como se Machado não fosse válido por outras razões, e desde logo por ser um ficcionista extraordinariamente inventivo, além de um insuperável mestre do idioma (e não, não digo isto por ele ser pouco “brasileiro” nesse item, o que é apenas um disparate). Os grandes autores, provavelmente, sofrem sempre essa imposição do nacional como fator de relevância e canonização. Mas no caso de Machado a situação é pior, pois não é frequente um autor central de uma literatura suscitar um tal cortejo de reservas e críticas ao longo dos tempos, ainda recentemente apontadas numa resenha de Alcir Pécora na Folha de S. Paulo a obras que abordam a receção de Machado. Parece que não há maneira de os brasileiros terem uma relação não ressalvada com Machado, e o humor machadiano, em rigor inesgotável, acaba por ser vitimado nesse processo. Os tempos, ainda por cima, não vão favoráveis ao humor, sobretudo em versões tão oblíquas, indiretas e complexas como as de Machado: de todo o lado nos dizem que não é correto rirmo-nos disto ou daquilo (e Machado até da morte se ria…), de A ou B ou C, que o riso é ofensivo e gratuito, etc. Eu supunha que a razão pela qual nos dedicamos à literatura é justamente por valorizarmos a riqueza da linguagem, a sua ambiguidade e complexidade, cujo funcionamento ficcional torna razoavelmente inviável usá-la para produzir afirmações categóricas sobre o mundo, ou sobre quem as enuncia, mais ou menos fingidamente (ou gratuitamente, já agora). Mas afinal parece que os usos literários e ficcionais da linguagem são apenas mistificação ideológica a denunciar e expor na praça pública, tal como a crítica brasileira sempre apreciou expor e denunciar a suposta indiferença de Machado à escravidão ou à “cor local” brasílica, entre outros absurdos. Se é assim com Machado, imagino o que se dirá de Nelson Rodrigues, autor com quem desconfio que não simpatizaria pessoalmente, mas cujos livros sempre mantenho por perto, mesmo quando o humor que ele pratica me dói.
Falando de autores maiores, convém não esquecer Drummond, grande poeta e grande humorista, de ascendência declaradamente inglesa. Drummond pode ter perdido a pedra, como Augusto de Campos criticamente enunciou num soneto famoso, e aliás injusto, mas o que nunca perdeu foi o senso de humor e a relativização de tudo o que ele acarreta. Sempre me senti mais próximo de Drummond do que de João Cabral, enorme autor, de resto, e creio que uma das razões para isso é o superior senso de humor de Drummond, presente do primeiro ao último livro.
ME – Em meio a esta transição (“uma transição inacabada”, como o senhor mencionou em um de seus textos) que vivemos do analógico para o digital, como a literatura e o livro estão se transformando?
OSVALDO SILVESTRE – A figura da “transição inacabada”, que entendo não como um processo inexorável, mas antes como um processo que se define por não terminar, foi tratada por mim no ensaio “Back to the Future. O livro de poesia como crítica do livro em papel e do e-book”, ensaio que pretende responder à perplexidade de quem assiste a uma revolução tecnológica e civilizacional que produz uma série de entidades supostamente póstumas que, contudo, mudam o suficiente para conseguirem resistir à proclamação da sua morte. Abordei primeiro a questão a propósito da passagem do livro em papel ao e-book, mas também a propósito de uma subcategoria particular do livro em papel, o livro de poesia, tentando demonstrar que a sua sobrevivência torna improdutiva a inclusão dessa ocorrência específica na meta-categoria Livro. Ou seja, o livro de poesia resiste de forma especial à crise do livro em papel, o que nos ajuda a perceber que há livros e livros, razão pela qual a proclamação in totto da morte do livro em papel não é apenas prematura mas sobretudo desajustada às muitas e diversas realidades a que chamamos livro. Por exemplo, creio que demonstrei que o livro de poesia deve ser pensado na sua relação metonímica, senão constitutiva, com a antologia, um livro cujo género tende a privilegiar, de um modo não contingente, a lírica, já que o que está em causa é o regime de leitura que o livro de poesia propõe, mais paradigmático do que sintagmático ou, se se preferir, muito mais descontínuo do que aquilo que acontece em qualquer outro tipo de livro. Admitindo que a leitura inicial de um livro de poesia é sequencial (para o que teremos de admitir, ainda assim, uma figura de leitor muito compenetrado do seu papel), a verdade é que raramente uma segunda leitura de um livro de poesia o é, tendendo antes o leitor a selecionar um percurso de leitura, ou seja, a produzir uma antologia do livro – no meu caso, por exemplo, quando leio um livro de poesia vou riscando os poemas que se me afiguram dispensáveis e aos quais já raramente volto. Drummond percebeu isso muito bem na sua Antologia Poética, uma das suas mais geniais criações, já que impôs com ela à sua obra um regime antológico que a desarticulou enquanto “sequência de livros”, para a rearticular enquanto sequência de poemas organizados por núcleos temáticos. Na primeira edição, a Antologia Poética não traz sequer a indicação da coletânea a que cada poema pertence, o que enfatiza a autonomia do poema em relação ao livro, ao mesmo tempo que faz perceber como a antologia suplementa, na aceção derridiana, o livro de poesia. Nos termos sequenciais que uso no ensaio, a Antologia Poética de Drummond revela que 1) “todo o livro de poesia existe para desembocar numa antologia”, e 2) que “todo o livro de poesia existe para ser desfeito por uma antologia”. Como ocorre com a figura derridiana do suplemento, e permitam-me que me cite, “tudo começa na intermediação ou, se se preferir, na remediação que a antologia opera sobre o livro de poesia”. A especificidade deste dispositivo explica, a meu ver, a resistência do livro de poesia ao ocaso do livro em papel e à novidade do e-book.
Em todo o caso, a figura da “transição inacabada” interessa-me enquanto processo que, nos seus efeitos, reaviva a figura do anacronismo. No meu site abri uma secção, com o título Depois do livro, na qual estudo justamente formas de sobrevivência do livro em papel por meio de uma recuperação, por vezes regressão, a técnicas pré-digitais de composição e impressão ou por meio de modalidades híbridas. Mas podíamos expandir a questão à recuperação dos discos em vinil, num certo sentido “melhores que os originais”, ao regresso da cassete, da fotografia analógica ou da polaroid, etc. Não se trata de saudosismo, obviamente, mas antes de abordar uma fase do devir da técnica que permite fazer conviver passado e presente, sem o drama apocalíptico com que o Anjo Novo de Benjamin contempla as ruínas do passado. O passado não é já ruína mas re-presentificação aurática e é esse processo de recusa da ruína que me interessa – uma outra versão da crise do Iluminismo que vivemos, em que tudo regressa post mortem, justamente porque a proclamação da sua morte foi demasiado prematura. Acho que um brasileiro percebe bem o alcance alargado disto nos dias de hoje.
ME – As redes sociais são democráticas e inclusivas ao permitirem que mais pessoas publiquem seus textos e se expressem ou isso é apenas uma ilusão?
OSVALDO SILVESTRE – Não vejo nada de errado no facto de as pessoas poderem publicar online aquilo que escrevem. Não sei é se isso é democracia, ou melhor, se isso não consiste em mais uma forma de alimentação histórica das eternas ilusões da democracia direta. Porque aquilo que define a publicação online é o facto de ela dispensar as mediações que, até à revolução digital, qualquer projeto de publicação acarretava, tratasse-se de jornal, revista ou livro. No mundo analógico havia sempre uma entidade que avaliava o texto a publicar, ajuizava sobre ele e concedia o imprimatur ou não. Tudo isso acabou, com o digital e as redes sociais, e esse momento da mediação crítica foi dispensado em benefício da publicação instantânea. No fundo, o regresso do sonho da democracia direta, paradoxalmente possibilitada por um dispositivo poderoso de mediação digital, que emancipa o demos das limitações de qualquer forum físico. O problema está em saber se a literatura, ou qualquer arte, funciona por democracia direta e se a dispensa da mediação permitida pelo complexo digital de facto a elimina ou apenas a suspende temporariamente e adia.
Até porque a outra face dessa instantaneidade democrática da publicação é o facto de grande parte dessa produção responder, de modo mais ou menos inconsciente, a gramáticas muito reconhecíveis de expressão. Isto, quer se trate da expressão escrita, quer da fotográfica, para nos reportarmos às duas linguagens dominantes online. Existe uma gramática da foto Instagram, por exemplo, da perspetiva ao cromatismo e à pose, no caso da selfie, que é imediatamente reconhecível, tal como ocorre com a poesia, a notação digressiva, o regime diarístico da escrita suscitada pelo meio, que tendem a recuperar modalidades de sujeito e referência tão tradicionais quanto inexpugnáveis. A democracia direta configura-se assim como a contraface de uma impressionante codificação das mensagens, como se o dispositivo triunfasse a toda a hora sobre a expressão. Fazendo uma paráfrase livre de Heidegger, dir-se-ia que é o dispositivo quem fala, não o sujeito, apesar das ilusões em contrário. O que seria ratificado pela sensação de infatigável verborreia que se apodera de quem se expõe às redes sociais, como se o dispositivo ele mesmo recusasse a possibilidade do silêncio (uma recusa que define toda a nossa cultura, da qual foi expulso o momento monacal). O que digo aqui, em registo mais ou menos transcendental, é apenas porventura uma cibervariação da clássica leitura retoricista, que nos alerta para tudo aquilo que nos transcende de cada vez que escrevemos, inscrevendo-nos necessariamente em gramáticas e retóricas de géneros e discursos. Em sede literária ou artística, a democracia ocorre sempre sobre esse fundo, pelo que tudo depende do grau de consciência que se possua desse fenómeno.
ME – Neste período de isolamento social, em meio a uma pandemia, qual a importância da literatura?
OSVALDO SILVESTRE – Francamente, a importância da literatura, no contexto referido, não anda longe da importância da música, do cinema, do humor – ou do futebol. Todos têm a ver, creio, com a relevância do simbólico na nossa vida, pelo que abdicar deles numa situação de pandemia não anda longe de abdicar da nossa vida. Não consigo produzir afirmações do tipo “O futebol agora não importa para nada”, afirmações que ouvi repetidamente, e que servem para o futebol mas não apenas, pois creio que isso vitima tudo aquilo que, no nosso dia a dia mais normal, não importando para nada, faz toda a diferença entre uma vida vegetativa e uma vida plena: de partilha, comunhão e transcendência quotidiana. Ou seja, tudo isso era vital para mim antes, tudo permaneceu vital durante a pandemia, pois tudo isso é afirmação de vida ou, como diriam Nietzsche ou Deleuze, da grande saúde. O que me pôs mais doente durante a pandemia foi constatar como demasiadas pessoas estão prontas a abdicar do que as define (falo pelas pessoas que conheço) por medo, apenas. Nesse sentido, a pandemia transporta outras dentro de si e isso, sim, assusta-me, bem mais do que a Covid 19, com todo o respeito que tenho por esta última. De modo que, respondendo diretamente, a importância da literatura em meio à pandemia é a de sempre, nem mais nem menos, o que é já bastante, dado que a literatura como a arte são, e nisso permaneço adorniano, uma promesse de bonheur, que transporta em si uma crítica do existente. E como o existente é em grande medida a merda que é, a literatura, com ou sem pandemia, é em todas as aceções um bem crítico.
ME – Se estamos “confinados” em nossas casas, a literatura teria um poder de “desconfinamento”?
OSVALDO SILVESTRE – Suponho que se referem a uma intervenção que fiz, a pedido da Universidade de Londrina e do Londrix, durante o confinamento, sobre os poderes da literatura. Aquilo a que eu queria então reagir era a um tropismo das redes sociais, patente em redes de leitura de poemas em voz alta ou na publicação de poemas, quase todos propondo a poesia como consolo ou terapêutica de um sujeito traumatizado, reforçando assim o processo de interiorização forçado pelo confinamento. A que acresce a facilidade com que o dispositivo digital naturaliza processos de subjetivação mais ou menos narcísica, por meio da publicitação ou exposição online do eu. Tendo a resistir a este devir tardo-romântico, que me parece oferecer da grande revolução que foi o romantismo uma versão pouco mais do que caricatural. Eu diria que o expressivismo romântico mantém hoje validade epistémica na área do ensino, já que a função da escola pode ser descrita como a de uma instituição que permite que o sujeito desabroche e floresça, o que é difícil de fazer sem recorrer a técnicas expressivistas, e na área terapêutica estrita, em que a verbalização ou expressão do trauma tem funções há muito catalogadas. E na música rock, sempre dominada pelos valores da autenticidade. Na prática literária, creio que o expressivismo é hoje, quase sempre, um equívoco, e tenho dificuldade em reconhecer-lhe produtividade. A força da literatura, e creio que a situação do confinamento permitiu perceber isso, é antes a da objetivação e exteriorização de mundos que desafiam a nossa constituição de sujeito e o nosso paroquialismo, e daí os exemplos que dei, sobretudo Kafka ou a literatura de evasão, na poderosa releitura de César Aira. Os exemplos tinham também um alcance reativo à proliferação de apelos a reler coisas como A Peste, de Camus, e toda a literatura que, mais uma vez, serviria apenas para ratificar simbolicamente o empírico, neste caso, o pesadelo (aquela literatura sempre sugerida por quem na verdade receia, ou desconhece, os poderes da literatura). Julgo que o melhor comentário a tudo isto seria uma frase de Eduardo Galeano que li não sei em que livro, há muitos anos: “Deixemos o pessimismo para tempos melhores”. O que seria o mesmo que dizer “Deixemos a literatura realista para tempos melhores”, posição que em mim é constitutiva.
– FIM DA ENTREVISTA –
Chegamos ao fim da entrevista e ficaremos muito felizes se você puder nos deixar saber se gostou do conteúdo que apresentamos.
Mas a série não acabou por aqui. Ainda teremos outras entrevistas nas próximas semanas. Para ter certeza de que será avisado quando o próximo episódio for publicado, sirva-se do formulário, na barra à direita, para receber nossas atualizações.


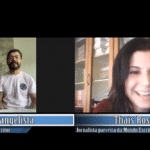




![Perguntas e respostas avançadas sobre escrita criativa [com Fabio Shiva]](https://mundoescrito.com.br/wp-content/uploads/2020/04/pergunas-e-respostas-avançadas-sobre-escrita-criativa-150x150.png)
Trackbacks/Pingbacks